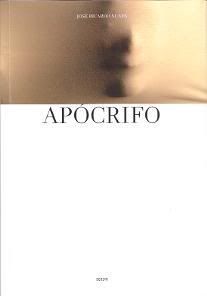 Texto de contracapa: «Apócrifo, de José Ricardo Nunes, não foi escrito pelo seu autor. Alguém escreveu estes poemas em nome do autor. (…) A vida pode ser um duplo da ficção. Às vezes nem sequer existe. Na melhor das hipóteses a vida será um texto apócrifo». A pergunta impõe-se: e estas palavras, quem as terá escrito? A mais recente colectânea de poemas de José Ricardo Nunes (n. 1964), autor que começou a publicar em 1998, surge-nos como a substância do adjectivo que lhe dá título: «documento cujo autor, lugar ou data não correspondem à verdade». Quem estiver familiarizado com esta poesia, sabe do gosto que o seu autor cultiva pela obra alheia, se alheia pode ser considerada alguma obra que façamos nossa. A intertextualidade, prática recorrente e, de certa forma, definidora de toda uma geração de poetas mais recentes, pode ser uma chave para a compreensão do enigma poético anunciado. O rosto velado da capa, forçando um véu que o omite, é o rosto das vozes que irrompem nos poemas de José Ricardo Nunes, de forma mais ou menos declarada. Em epígrafe inicial, Kavafis. No miolo: e. e. cummings, María Victoria Atencia, Osip Mandelstam, Edgar Varèse, António Franco Alexandre, Jorde de Sena – numa curiosa “carta sobre não sei o quê” -, entre outros, menos óbvios, e sempre presentes: Herberto, Carlos de Oliveira, Luísa Neto Jorge, algum Nava. No entanto, esta intertextualidade não se processa apenas no plano de um diálogo ou de uma leitura dos outros, mas também, matéria talvez mais complexa, no plano de um diálogo interior do poeta consigo próprio. É nesse plano que se tornam evidentes as obsessões da escrita do autor de Na Linha Divisória (Campo das Letras, 2000). São elas, precisamente, essa linha que, quando não demarca, pelo menos instala uma duplicidade entre o corpo e a escrita, a luz e a treva, o real e o sonho. Curioso que para abordar tais temas, como sabemos de raiz filosófica universal, o poeta opte por concentrar-se na sua vida, o que, por vezes, confere aos versos um tom lírico, não necessariamente sentimental, estranho a grande parte da poesia que se publica hoje entre nós. “A minha vida”, chamada ao poema por diversas ocasiões, é o campo material onde o inferno acontece e o poema se intromete: «Acendo a luz da sala, o próprio corpo / é um lugar. O desejo / não me sacode ao ponto de ser / outro e olhar pela vidraça à procura / de um vulgar infinito. // Basta-me a sala deserta, o terror / dos meus próprios passos, // o luminoso inferno» (p. 55). O bastante, neste caso, não é o suficiente, no sentido de ser o necessário para o consolo, mas sim o oposto. Ou seja, o bastante é o lugar de todo o desconforto passado para o poema como quem se interroga, como quem se busca, como quem se coloca perante a dúvida, como quem insiste em autoconhecer-se. Gesto de autoconhecimento, são pois todos os versos que compõem este volume, organizado em torno de conceitos facilmente identificáveis na poesia deste autor: o corpo (na relação osmótica que mantém com a escrita, o mesmo “corpo escrevente” que deu título à tese dedicada à poesia de Luiza Neto Jorge), o tempo (o tempo que se desdobra, «passa e repete-se», como o “poema contínuo” de Herberto Helder), o eu (deambulando numa estranha duplicidade, como se fosse um eu por construir ou, por se descobrir, um eu em permanente questão, confundindo-se com «um corpo que se reaprenda»). Interceptam-se os três vértices no tecto da sombra, do véu, da treva, da escuridão, como uma realidade tão forte quão forte possa ser a ficcionalização dessa mesma realidade: «Pois tudo é abismo, fractura, / rosto que foge» (p. 28). Os pólos parecem tocar-se, mas não desaparecem. A duplicidade provoca interrogações, mas não se questiona. Surge como um predomínio (cf. Predomínio da Duplicidade). Ao contrário do que constatamos em certas poéticas, nesta não se vislumbra o gosto da fusão, não se tenta sequer transpor o limite que separa as águas, mas é curioso verificar que é precisamente a partir da afirmação dos opostos que melhor se revela a sua complementaridade. Que seria do real sem a ficção? Que seria da vida sem a morte? Que seria do rosto sem o seu simulacro? Que seria da treva sem a luz? Que seria da dor sem o riso? Na melhor das hipóteses a vida será um texto apócrifo. Pouco mais nos será dado saber, conhecer.
Texto de contracapa: «Apócrifo, de José Ricardo Nunes, não foi escrito pelo seu autor. Alguém escreveu estes poemas em nome do autor. (…) A vida pode ser um duplo da ficção. Às vezes nem sequer existe. Na melhor das hipóteses a vida será um texto apócrifo». A pergunta impõe-se: e estas palavras, quem as terá escrito? A mais recente colectânea de poemas de José Ricardo Nunes (n. 1964), autor que começou a publicar em 1998, surge-nos como a substância do adjectivo que lhe dá título: «documento cujo autor, lugar ou data não correspondem à verdade». Quem estiver familiarizado com esta poesia, sabe do gosto que o seu autor cultiva pela obra alheia, se alheia pode ser considerada alguma obra que façamos nossa. A intertextualidade, prática recorrente e, de certa forma, definidora de toda uma geração de poetas mais recentes, pode ser uma chave para a compreensão do enigma poético anunciado. O rosto velado da capa, forçando um véu que o omite, é o rosto das vozes que irrompem nos poemas de José Ricardo Nunes, de forma mais ou menos declarada. Em epígrafe inicial, Kavafis. No miolo: e. e. cummings, María Victoria Atencia, Osip Mandelstam, Edgar Varèse, António Franco Alexandre, Jorde de Sena – numa curiosa “carta sobre não sei o quê” -, entre outros, menos óbvios, e sempre presentes: Herberto, Carlos de Oliveira, Luísa Neto Jorge, algum Nava. No entanto, esta intertextualidade não se processa apenas no plano de um diálogo ou de uma leitura dos outros, mas também, matéria talvez mais complexa, no plano de um diálogo interior do poeta consigo próprio. É nesse plano que se tornam evidentes as obsessões da escrita do autor de Na Linha Divisória (Campo das Letras, 2000). São elas, precisamente, essa linha que, quando não demarca, pelo menos instala uma duplicidade entre o corpo e a escrita, a luz e a treva, o real e o sonho. Curioso que para abordar tais temas, como sabemos de raiz filosófica universal, o poeta opte por concentrar-se na sua vida, o que, por vezes, confere aos versos um tom lírico, não necessariamente sentimental, estranho a grande parte da poesia que se publica hoje entre nós. “A minha vida”, chamada ao poema por diversas ocasiões, é o campo material onde o inferno acontece e o poema se intromete: «Acendo a luz da sala, o próprio corpo / é um lugar. O desejo / não me sacode ao ponto de ser / outro e olhar pela vidraça à procura / de um vulgar infinito. // Basta-me a sala deserta, o terror / dos meus próprios passos, // o luminoso inferno» (p. 55). O bastante, neste caso, não é o suficiente, no sentido de ser o necessário para o consolo, mas sim o oposto. Ou seja, o bastante é o lugar de todo o desconforto passado para o poema como quem se interroga, como quem se busca, como quem se coloca perante a dúvida, como quem insiste em autoconhecer-se. Gesto de autoconhecimento, são pois todos os versos que compõem este volume, organizado em torno de conceitos facilmente identificáveis na poesia deste autor: o corpo (na relação osmótica que mantém com a escrita, o mesmo “corpo escrevente” que deu título à tese dedicada à poesia de Luiza Neto Jorge), o tempo (o tempo que se desdobra, «passa e repete-se», como o “poema contínuo” de Herberto Helder), o eu (deambulando numa estranha duplicidade, como se fosse um eu por construir ou, por se descobrir, um eu em permanente questão, confundindo-se com «um corpo que se reaprenda»). Interceptam-se os três vértices no tecto da sombra, do véu, da treva, da escuridão, como uma realidade tão forte quão forte possa ser a ficcionalização dessa mesma realidade: «Pois tudo é abismo, fractura, / rosto que foge» (p. 28). Os pólos parecem tocar-se, mas não desaparecem. A duplicidade provoca interrogações, mas não se questiona. Surge como um predomínio (cf. Predomínio da Duplicidade). Ao contrário do que constatamos em certas poéticas, nesta não se vislumbra o gosto da fusão, não se tenta sequer transpor o limite que separa as águas, mas é curioso verificar que é precisamente a partir da afirmação dos opostos que melhor se revela a sua complementaridade. Que seria do real sem a ficção? Que seria da vida sem a morte? Que seria do rosto sem o seu simulacro? Que seria da treva sem a luz? Que seria da dor sem o riso? Na melhor das hipóteses a vida será um texto apócrifo. Pouco mais nos será dado saber, conhecer.sexta-feira, 26 de outubro de 2007
APÓCRIFO
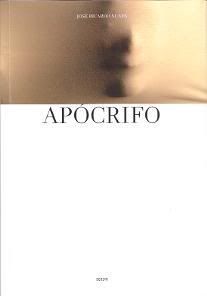 Texto de contracapa: «Apócrifo, de José Ricardo Nunes, não foi escrito pelo seu autor. Alguém escreveu estes poemas em nome do autor. (…) A vida pode ser um duplo da ficção. Às vezes nem sequer existe. Na melhor das hipóteses a vida será um texto apócrifo». A pergunta impõe-se: e estas palavras, quem as terá escrito? A mais recente colectânea de poemas de José Ricardo Nunes (n. 1964), autor que começou a publicar em 1998, surge-nos como a substância do adjectivo que lhe dá título: «documento cujo autor, lugar ou data não correspondem à verdade». Quem estiver familiarizado com esta poesia, sabe do gosto que o seu autor cultiva pela obra alheia, se alheia pode ser considerada alguma obra que façamos nossa. A intertextualidade, prática recorrente e, de certa forma, definidora de toda uma geração de poetas mais recentes, pode ser uma chave para a compreensão do enigma poético anunciado. O rosto velado da capa, forçando um véu que o omite, é o rosto das vozes que irrompem nos poemas de José Ricardo Nunes, de forma mais ou menos declarada. Em epígrafe inicial, Kavafis. No miolo: e. e. cummings, María Victoria Atencia, Osip Mandelstam, Edgar Varèse, António Franco Alexandre, Jorde de Sena – numa curiosa “carta sobre não sei o quê” -, entre outros, menos óbvios, e sempre presentes: Herberto, Carlos de Oliveira, Luísa Neto Jorge, algum Nava. No entanto, esta intertextualidade não se processa apenas no plano de um diálogo ou de uma leitura dos outros, mas também, matéria talvez mais complexa, no plano de um diálogo interior do poeta consigo próprio. É nesse plano que se tornam evidentes as obsessões da escrita do autor de Na Linha Divisória (Campo das Letras, 2000). São elas, precisamente, essa linha que, quando não demarca, pelo menos instala uma duplicidade entre o corpo e a escrita, a luz e a treva, o real e o sonho. Curioso que para abordar tais temas, como sabemos de raiz filosófica universal, o poeta opte por concentrar-se na sua vida, o que, por vezes, confere aos versos um tom lírico, não necessariamente sentimental, estranho a grande parte da poesia que se publica hoje entre nós. “A minha vida”, chamada ao poema por diversas ocasiões, é o campo material onde o inferno acontece e o poema se intromete: «Acendo a luz da sala, o próprio corpo / é um lugar. O desejo / não me sacode ao ponto de ser / outro e olhar pela vidraça à procura / de um vulgar infinito. // Basta-me a sala deserta, o terror / dos meus próprios passos, // o luminoso inferno» (p. 55). O bastante, neste caso, não é o suficiente, no sentido de ser o necessário para o consolo, mas sim o oposto. Ou seja, o bastante é o lugar de todo o desconforto passado para o poema como quem se interroga, como quem se busca, como quem se coloca perante a dúvida, como quem insiste em autoconhecer-se. Gesto de autoconhecimento, são pois todos os versos que compõem este volume, organizado em torno de conceitos facilmente identificáveis na poesia deste autor: o corpo (na relação osmótica que mantém com a escrita, o mesmo “corpo escrevente” que deu título à tese dedicada à poesia de Luiza Neto Jorge), o tempo (o tempo que se desdobra, «passa e repete-se», como o “poema contínuo” de Herberto Helder), o eu (deambulando numa estranha duplicidade, como se fosse um eu por construir ou, por se descobrir, um eu em permanente questão, confundindo-se com «um corpo que se reaprenda»). Interceptam-se os três vértices no tecto da sombra, do véu, da treva, da escuridão, como uma realidade tão forte quão forte possa ser a ficcionalização dessa mesma realidade: «Pois tudo é abismo, fractura, / rosto que foge» (p. 28). Os pólos parecem tocar-se, mas não desaparecem. A duplicidade provoca interrogações, mas não se questiona. Surge como um predomínio (cf. Predomínio da Duplicidade). Ao contrário do que constatamos em certas poéticas, nesta não se vislumbra o gosto da fusão, não se tenta sequer transpor o limite que separa as águas, mas é curioso verificar que é precisamente a partir da afirmação dos opostos que melhor se revela a sua complementaridade. Que seria do real sem a ficção? Que seria da vida sem a morte? Que seria do rosto sem o seu simulacro? Que seria da treva sem a luz? Que seria da dor sem o riso? Na melhor das hipóteses a vida será um texto apócrifo. Pouco mais nos será dado saber, conhecer.
Texto de contracapa: «Apócrifo, de José Ricardo Nunes, não foi escrito pelo seu autor. Alguém escreveu estes poemas em nome do autor. (…) A vida pode ser um duplo da ficção. Às vezes nem sequer existe. Na melhor das hipóteses a vida será um texto apócrifo». A pergunta impõe-se: e estas palavras, quem as terá escrito? A mais recente colectânea de poemas de José Ricardo Nunes (n. 1964), autor que começou a publicar em 1998, surge-nos como a substância do adjectivo que lhe dá título: «documento cujo autor, lugar ou data não correspondem à verdade». Quem estiver familiarizado com esta poesia, sabe do gosto que o seu autor cultiva pela obra alheia, se alheia pode ser considerada alguma obra que façamos nossa. A intertextualidade, prática recorrente e, de certa forma, definidora de toda uma geração de poetas mais recentes, pode ser uma chave para a compreensão do enigma poético anunciado. O rosto velado da capa, forçando um véu que o omite, é o rosto das vozes que irrompem nos poemas de José Ricardo Nunes, de forma mais ou menos declarada. Em epígrafe inicial, Kavafis. No miolo: e. e. cummings, María Victoria Atencia, Osip Mandelstam, Edgar Varèse, António Franco Alexandre, Jorde de Sena – numa curiosa “carta sobre não sei o quê” -, entre outros, menos óbvios, e sempre presentes: Herberto, Carlos de Oliveira, Luísa Neto Jorge, algum Nava. No entanto, esta intertextualidade não se processa apenas no plano de um diálogo ou de uma leitura dos outros, mas também, matéria talvez mais complexa, no plano de um diálogo interior do poeta consigo próprio. É nesse plano que se tornam evidentes as obsessões da escrita do autor de Na Linha Divisória (Campo das Letras, 2000). São elas, precisamente, essa linha que, quando não demarca, pelo menos instala uma duplicidade entre o corpo e a escrita, a luz e a treva, o real e o sonho. Curioso que para abordar tais temas, como sabemos de raiz filosófica universal, o poeta opte por concentrar-se na sua vida, o que, por vezes, confere aos versos um tom lírico, não necessariamente sentimental, estranho a grande parte da poesia que se publica hoje entre nós. “A minha vida”, chamada ao poema por diversas ocasiões, é o campo material onde o inferno acontece e o poema se intromete: «Acendo a luz da sala, o próprio corpo / é um lugar. O desejo / não me sacode ao ponto de ser / outro e olhar pela vidraça à procura / de um vulgar infinito. // Basta-me a sala deserta, o terror / dos meus próprios passos, // o luminoso inferno» (p. 55). O bastante, neste caso, não é o suficiente, no sentido de ser o necessário para o consolo, mas sim o oposto. Ou seja, o bastante é o lugar de todo o desconforto passado para o poema como quem se interroga, como quem se busca, como quem se coloca perante a dúvida, como quem insiste em autoconhecer-se. Gesto de autoconhecimento, são pois todos os versos que compõem este volume, organizado em torno de conceitos facilmente identificáveis na poesia deste autor: o corpo (na relação osmótica que mantém com a escrita, o mesmo “corpo escrevente” que deu título à tese dedicada à poesia de Luiza Neto Jorge), o tempo (o tempo que se desdobra, «passa e repete-se», como o “poema contínuo” de Herberto Helder), o eu (deambulando numa estranha duplicidade, como se fosse um eu por construir ou, por se descobrir, um eu em permanente questão, confundindo-se com «um corpo que se reaprenda»). Interceptam-se os três vértices no tecto da sombra, do véu, da treva, da escuridão, como uma realidade tão forte quão forte possa ser a ficcionalização dessa mesma realidade: «Pois tudo é abismo, fractura, / rosto que foge» (p. 28). Os pólos parecem tocar-se, mas não desaparecem. A duplicidade provoca interrogações, mas não se questiona. Surge como um predomínio (cf. Predomínio da Duplicidade). Ao contrário do que constatamos em certas poéticas, nesta não se vislumbra o gosto da fusão, não se tenta sequer transpor o limite que separa as águas, mas é curioso verificar que é precisamente a partir da afirmação dos opostos que melhor se revela a sua complementaridade. Que seria do real sem a ficção? Que seria da vida sem a morte? Que seria do rosto sem o seu simulacro? Que seria da treva sem a luz? Que seria da dor sem o riso? Na melhor das hipóteses a vida será um texto apócrifo. Pouco mais nos será dado saber, conhecer.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário