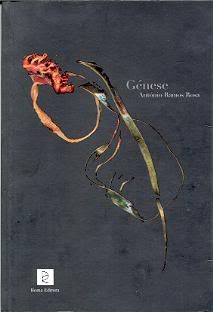 O primeiro livro de António Ramos Rosa (n. 1924) que li foi, se bem me lembro, A Pedra Nua (1972). À época, já o livro atingira a maturidade e eu andava pelos meados da adolescência. Lembro-me perfeitamente de ter ficado com a ambivalente sensação de ter gostado do livro, ainda que não tivesse entendido metade do que acabara de ler. Dizer metade será apenas uma forma de quantificar uma ignorância que, não sendo mensurável, deverá ser respeitada. A poesia de António Ramos Rosa provoca-me efeitos semelhantes aos que me são provocados pelo mar, pelas serras, pelo vento, pela chuva, pelo sol, pelas nuvens, pelo céu, pela força da natureza. Quero com isto dizer que é uma poesia que me enleva, mas que teimo obstinadamente em não compreender. O poeta algarvio, há muito radicado na capital, o poeta que um dia largou os afazeres profissionais para se “profissionalizar” em poesia, escreve e edita muito. Porventura demasiado. No seu mais recente livro (pelo menos, aquele que julgo ser o mais recente), publicado em Fevereiro passado, somos presenteados com dois abastados conjuntos de poemas aos quais o poeta deu os títulos de Génese e Constelações. O primeiro dos conjuntos dá nome à obra, primeira de uma nova colecção de poesia da Roma Editora. Nesse conjunto encontramos, mais uma vez, o problema da génese do poema, da relação da poesia com o real, da poesia como «reconhecimento da invisível pureza» (p. 17) [atenção: a paginação do índice está errada], da fragilidade da linguagem, de um sentido que se ergue na admissão do não-sentido como único sentido verdadeiramente possível. É a poesia, enquanto liberdade livre, que mais uma vez aqui se evoca, numa poderosa linguagem onde metáforas e imagens se confundem, em estado puro, com o reflexo e a reflexão da realidade. Porque a poesia de Ramos Rosa, ainda que por vezes pareça meramente contemplativa, é, a meu ver, mormente reflexiva. Ou, se quisermos, é uma poesia onde contemplação e reflexão são uma e a mesma coisa. Daí as permanentes interrogações sobre aquilo que se vê, já não pelo sentido físico de ver, mas pelo sentido ontológico de escutar nas coisas o invisível, o improvável: «Só a palavra que escuta e na sua escuta forma um espaço lento / pode recolher a luz do improvável como se este fosse uma respiração» (p. 30). A segunda recolha que completa o livro, Constelações, remete para uma espécie de cosmogonia onde ficção e realidade se deixam de opor para darem lugar a uma nudez, a uma transparência, que é, em última instância, a simplicidade que pressentimos nas coisas. As imagens embalam-nos e são, elas mesmas, essa respiração do improvável. Há só um senão que, para mim, enferma esta poesia. Falo de um certo excesso, de uma certa torrente de escrita que nada perderia numa menor extensão dos poemas. Quando um poema abre assim: «Se há um outro lado do mundo viver é não vê-lo / Não podemos fender a parede que à nossa frente em cada passo se desloca» (p. 70) – será necessário acrescentar mais alguma coisa?
O primeiro livro de António Ramos Rosa (n. 1924) que li foi, se bem me lembro, A Pedra Nua (1972). À época, já o livro atingira a maturidade e eu andava pelos meados da adolescência. Lembro-me perfeitamente de ter ficado com a ambivalente sensação de ter gostado do livro, ainda que não tivesse entendido metade do que acabara de ler. Dizer metade será apenas uma forma de quantificar uma ignorância que, não sendo mensurável, deverá ser respeitada. A poesia de António Ramos Rosa provoca-me efeitos semelhantes aos que me são provocados pelo mar, pelas serras, pelo vento, pela chuva, pelo sol, pelas nuvens, pelo céu, pela força da natureza. Quero com isto dizer que é uma poesia que me enleva, mas que teimo obstinadamente em não compreender. O poeta algarvio, há muito radicado na capital, o poeta que um dia largou os afazeres profissionais para se “profissionalizar” em poesia, escreve e edita muito. Porventura demasiado. No seu mais recente livro (pelo menos, aquele que julgo ser o mais recente), publicado em Fevereiro passado, somos presenteados com dois abastados conjuntos de poemas aos quais o poeta deu os títulos de Génese e Constelações. O primeiro dos conjuntos dá nome à obra, primeira de uma nova colecção de poesia da Roma Editora. Nesse conjunto encontramos, mais uma vez, o problema da génese do poema, da relação da poesia com o real, da poesia como «reconhecimento da invisível pureza» (p. 17) [atenção: a paginação do índice está errada], da fragilidade da linguagem, de um sentido que se ergue na admissão do não-sentido como único sentido verdadeiramente possível. É a poesia, enquanto liberdade livre, que mais uma vez aqui se evoca, numa poderosa linguagem onde metáforas e imagens se confundem, em estado puro, com o reflexo e a reflexão da realidade. Porque a poesia de Ramos Rosa, ainda que por vezes pareça meramente contemplativa, é, a meu ver, mormente reflexiva. Ou, se quisermos, é uma poesia onde contemplação e reflexão são uma e a mesma coisa. Daí as permanentes interrogações sobre aquilo que se vê, já não pelo sentido físico de ver, mas pelo sentido ontológico de escutar nas coisas o invisível, o improvável: «Só a palavra que escuta e na sua escuta forma um espaço lento / pode recolher a luz do improvável como se este fosse uma respiração» (p. 30). A segunda recolha que completa o livro, Constelações, remete para uma espécie de cosmogonia onde ficção e realidade se deixam de opor para darem lugar a uma nudez, a uma transparência, que é, em última instância, a simplicidade que pressentimos nas coisas. As imagens embalam-nos e são, elas mesmas, essa respiração do improvável. Há só um senão que, para mim, enferma esta poesia. Falo de um certo excesso, de uma certa torrente de escrita que nada perderia numa menor extensão dos poemas. Quando um poema abre assim: «Se há um outro lado do mundo viver é não vê-lo / Não podemos fender a parede que à nossa frente em cada passo se desloca» (p. 70) – será necessário acrescentar mais alguma coisa?quarta-feira, 8 de junho de 2005
GÉNESE
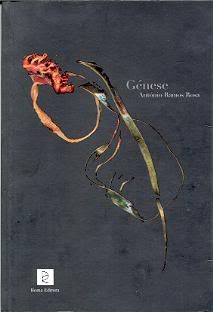 O primeiro livro de António Ramos Rosa (n. 1924) que li foi, se bem me lembro, A Pedra Nua (1972). À época, já o livro atingira a maturidade e eu andava pelos meados da adolescência. Lembro-me perfeitamente de ter ficado com a ambivalente sensação de ter gostado do livro, ainda que não tivesse entendido metade do que acabara de ler. Dizer metade será apenas uma forma de quantificar uma ignorância que, não sendo mensurável, deverá ser respeitada. A poesia de António Ramos Rosa provoca-me efeitos semelhantes aos que me são provocados pelo mar, pelas serras, pelo vento, pela chuva, pelo sol, pelas nuvens, pelo céu, pela força da natureza. Quero com isto dizer que é uma poesia que me enleva, mas que teimo obstinadamente em não compreender. O poeta algarvio, há muito radicado na capital, o poeta que um dia largou os afazeres profissionais para se “profissionalizar” em poesia, escreve e edita muito. Porventura demasiado. No seu mais recente livro (pelo menos, aquele que julgo ser o mais recente), publicado em Fevereiro passado, somos presenteados com dois abastados conjuntos de poemas aos quais o poeta deu os títulos de Génese e Constelações. O primeiro dos conjuntos dá nome à obra, primeira de uma nova colecção de poesia da Roma Editora. Nesse conjunto encontramos, mais uma vez, o problema da génese do poema, da relação da poesia com o real, da poesia como «reconhecimento da invisível pureza» (p. 17) [atenção: a paginação do índice está errada], da fragilidade da linguagem, de um sentido que se ergue na admissão do não-sentido como único sentido verdadeiramente possível. É a poesia, enquanto liberdade livre, que mais uma vez aqui se evoca, numa poderosa linguagem onde metáforas e imagens se confundem, em estado puro, com o reflexo e a reflexão da realidade. Porque a poesia de Ramos Rosa, ainda que por vezes pareça meramente contemplativa, é, a meu ver, mormente reflexiva. Ou, se quisermos, é uma poesia onde contemplação e reflexão são uma e a mesma coisa. Daí as permanentes interrogações sobre aquilo que se vê, já não pelo sentido físico de ver, mas pelo sentido ontológico de escutar nas coisas o invisível, o improvável: «Só a palavra que escuta e na sua escuta forma um espaço lento / pode recolher a luz do improvável como se este fosse uma respiração» (p. 30). A segunda recolha que completa o livro, Constelações, remete para uma espécie de cosmogonia onde ficção e realidade se deixam de opor para darem lugar a uma nudez, a uma transparência, que é, em última instância, a simplicidade que pressentimos nas coisas. As imagens embalam-nos e são, elas mesmas, essa respiração do improvável. Há só um senão que, para mim, enferma esta poesia. Falo de um certo excesso, de uma certa torrente de escrita que nada perderia numa menor extensão dos poemas. Quando um poema abre assim: «Se há um outro lado do mundo viver é não vê-lo / Não podemos fender a parede que à nossa frente em cada passo se desloca» (p. 70) – será necessário acrescentar mais alguma coisa?
O primeiro livro de António Ramos Rosa (n. 1924) que li foi, se bem me lembro, A Pedra Nua (1972). À época, já o livro atingira a maturidade e eu andava pelos meados da adolescência. Lembro-me perfeitamente de ter ficado com a ambivalente sensação de ter gostado do livro, ainda que não tivesse entendido metade do que acabara de ler. Dizer metade será apenas uma forma de quantificar uma ignorância que, não sendo mensurável, deverá ser respeitada. A poesia de António Ramos Rosa provoca-me efeitos semelhantes aos que me são provocados pelo mar, pelas serras, pelo vento, pela chuva, pelo sol, pelas nuvens, pelo céu, pela força da natureza. Quero com isto dizer que é uma poesia que me enleva, mas que teimo obstinadamente em não compreender. O poeta algarvio, há muito radicado na capital, o poeta que um dia largou os afazeres profissionais para se “profissionalizar” em poesia, escreve e edita muito. Porventura demasiado. No seu mais recente livro (pelo menos, aquele que julgo ser o mais recente), publicado em Fevereiro passado, somos presenteados com dois abastados conjuntos de poemas aos quais o poeta deu os títulos de Génese e Constelações. O primeiro dos conjuntos dá nome à obra, primeira de uma nova colecção de poesia da Roma Editora. Nesse conjunto encontramos, mais uma vez, o problema da génese do poema, da relação da poesia com o real, da poesia como «reconhecimento da invisível pureza» (p. 17) [atenção: a paginação do índice está errada], da fragilidade da linguagem, de um sentido que se ergue na admissão do não-sentido como único sentido verdadeiramente possível. É a poesia, enquanto liberdade livre, que mais uma vez aqui se evoca, numa poderosa linguagem onde metáforas e imagens se confundem, em estado puro, com o reflexo e a reflexão da realidade. Porque a poesia de Ramos Rosa, ainda que por vezes pareça meramente contemplativa, é, a meu ver, mormente reflexiva. Ou, se quisermos, é uma poesia onde contemplação e reflexão são uma e a mesma coisa. Daí as permanentes interrogações sobre aquilo que se vê, já não pelo sentido físico de ver, mas pelo sentido ontológico de escutar nas coisas o invisível, o improvável: «Só a palavra que escuta e na sua escuta forma um espaço lento / pode recolher a luz do improvável como se este fosse uma respiração» (p. 30). A segunda recolha que completa o livro, Constelações, remete para uma espécie de cosmogonia onde ficção e realidade se deixam de opor para darem lugar a uma nudez, a uma transparência, que é, em última instância, a simplicidade que pressentimos nas coisas. As imagens embalam-nos e são, elas mesmas, essa respiração do improvável. Há só um senão que, para mim, enferma esta poesia. Falo de um certo excesso, de uma certa torrente de escrita que nada perderia numa menor extensão dos poemas. Quando um poema abre assim: «Se há um outro lado do mundo viver é não vê-lo / Não podemos fender a parede que à nossa frente em cada passo se desloca» (p. 70) – será necessário acrescentar mais alguma coisa?
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário